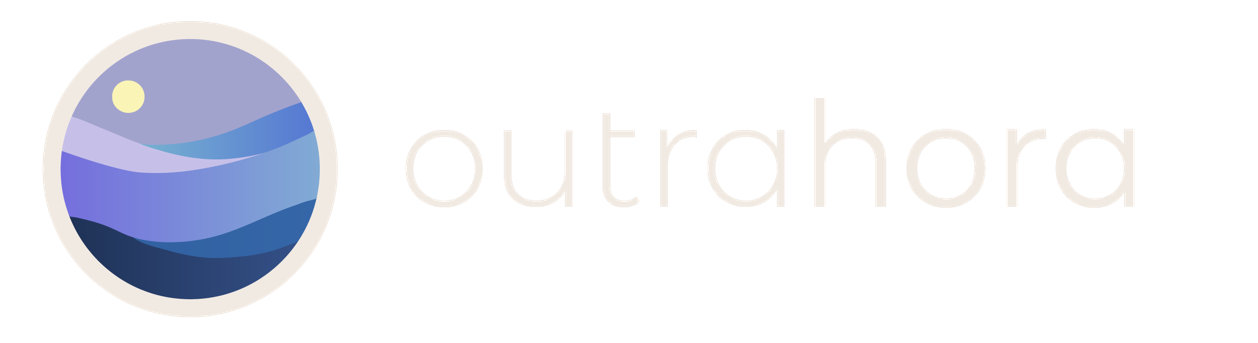Crítica | A Qualquer Custo
Para muitas pessoas a principal qualidade de um filme é que logo quando ele acaba, você já quer assistir de novo. Entrar naquela história mais uma vez, mesmo que ela não seja agradável. As vezes não é um universo atraente, mas você quer parar por outras duas horas para fingir mais uma vez que tudo que acontece ali é real e está acontecendo diante de seus olhos. “Hell or High Water”, ou sua tradução menos brilhante “À Qualquer Custo”, é esse tipo de filme.
Estamos em 2017, e os faroestes talvez sejam o gênero que mais tenham caído de popularidade, até mais do que os musicais (“La La Land” mandou abraços). É apenas complicado vender histórias passadas em cidades que, mesmo que existam, sejam esquecidas, e ainda fazer essas histórias lucrar mais do que guerras espaciais, super heróis, ou feel good movies é praticamente impossível. E, ainda mais difícil, é trazer este gênero para a época em que vivemos e o fazê-lo funcionar. Talvez por isso “Hell or High Water” seja ainda melhor do que realmente é, pois sabemos que vamos ter de esperar anos por outro em um nível parecido. Um exemplo? “No Country For Old Men” foi a dez anos atrás.
Aqui tudo começa com um assalto a banco, convenção comum do gênero, onde Chris Pine e Ben Foster interpretam os irmãos Toby e Tanner Howard, que tem de pagar uma dívida deixada por sua mãe para que seu rancho não seja fechado. Os detetives Marcus Hamilton e Alberto Parker, interpretados por Jeff Bridges e Gil Birmingham, respectivamente, estão no caso. Sim, o que você leu aqui não é nenhuma novidade. O bandido bom, o bandido ruim, o policial quase aposentado, o filme não sucede por tentar reconstruir a principal estética do gênero, mas sim por apresentar um aprofundado estudo em como a sociedade moldou cada um daqueles personagens, tudo enquanto deixa claro que uma dupla não antagoniza a outra, mas funcionam como partes de uma guerra muito maior.
Taylor Sheridan, que parece ter encontrado seu local na indústria cinematográfica, sucede em deixar claro, desde o começo, as motivações de cada personagem, sem precisar abusar de exposições para contar, durante os diálogos, pequenos fragmentos que enriquecem a história de cada um. Ele é eficaz também em retratar a ambiguidade da situação, não te deixando torcer para nenhum dos dois lados, transformando o personagem de Pine em um homem justo, e o de Jeff Bridges em um velho que lembra aquele seu tio mais chato. Assim como Aaron Sorkin (“A Rede Social”, exemplo suficiente), Sheridan acredita na inteligência de sua audiência e também pudera, não é todo dia que você está dando banda pelo shopping e decide entrar em um filme como este. Logo, é natural que seja justamente a naturalidade o ponto forte da narrativa, que volta e meia mostra os irmãos entregues ao trabalho menos prazeroso, em tela, de um assalto: a espera pelo próximo.
Porém, essa naturalidade não funcionaria sem um elenco dedicado, mais algo que o filme tem a seu dispor. Chris Pine consegue passar toda a confusão na cabeça de seu personagem, seu olhar é profundo e sua própria figura, emagrecida e cansada, falam muito. Há uma falta de esperança nele em sair do tipo de vida em que está levando, e mesmo que a desaprove, parece ter aceitado aonde o destino o levou. Ben Foster está psicótico, seu olhar é insano, suas atitudes e ações energéticas e explosivas, mas ainda assim se percebe o laço que tem com seu irmão, o que culmina em uma cena forte e tocante em meio à toda a insanidade do ato final. Jeff Bridges não está fazendo nada muito diferente do comum de filmes de faroeste, é o velho detetive, prestes a se aposentar, mas seu carisma é irresistível. A vontade e o amor por sua profissão são visíveis, mesmo assim ele reconhece e aceita seu futuro. Suas interações com Gil Birmingham são cômicas, e o final de sua relação é cruel de uma forma quase sádica.
As cenas de ação são filmadas com o mesmo senso de dura realidade que o resto do filme e, sem o uso de câmera lenta, excesso de barulho ou sequências que beiram o surreal, o diretor David Mackenzie acerta nas tomadas longas e planos sequência. A cinematografia capta muito bem a aridez do oeste do Texas retratada com reveladores planos abertos, sempre passando um sentimento de depressão em meio ao iminente senso de esquecimento que locais como esse provocam justamente por revelarem que não há nada na volta. Raramente o uso de canções para externalizar o sentimento de um personagem me convencem, mas a forma como os próprios brincam com isso é quase comovente, e perceba como ambas as duplas realizam sequências parecidas em momentos distintos envolvendo o rádio.
Por vezes cínico e engraçado, por outras perigosamente comovente, é um trabalho muito bem controlado e arquitetado, que não faz questão em jogar sua mensagem descaradamente, mesmo que dicas aqui e ali apontem para os verdadeiros vilões desta história. Os bancos controlam seu dinheiro, a igreja sua cabeça, a vida no deserto não é bonita, a aposentadoria é assustadora e, as vezes, a própria vida é ainda mais.